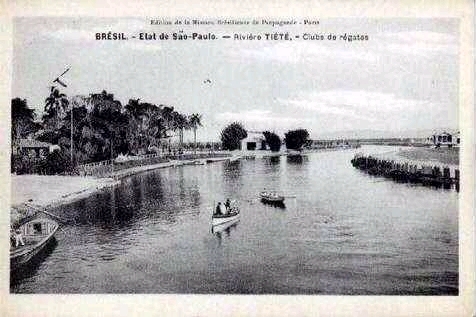Uma certa vez, passei num concurso público em Cuiabá. Fui para lá sem conhecer a cidade, nem ninguém nela. Morando em um hotel, busquei companhia para as minhas noites vazias. Numa livraria de um dos shopping centers da cidade, quem me seduziu foi um livro intitulado "Os cem melhores contos brasileiros do século". Durante as noites de cerca de um mês li conto após conto.
Uma certa vez, passei num concurso público em Cuiabá. Fui para lá sem conhecer a cidade, nem ninguém nela. Morando em um hotel, busquei companhia para as minhas noites vazias. Numa livraria de um dos shopping centers da cidade, quem me seduziu foi um livro intitulado "Os cem melhores contos brasileiros do século". Durante as noites de cerca de um mês li conto após conto.O tempo passou e eu passei em outro concurso. Mudei, eu, a cidade ao meu redor.
E eu comecei a escrever, de forma sistemática, para espantar a solidão. Ou para alardeá-la. Ou para espantar o tédio. Ou por descobrir que eu podia escrever. Ou por outra razão qualquer.
Mas a gota d'água que me me levou mesmo a escrever foi uma visão que tive, há uns anos, quando fui a um congresso de astrofísica, em Campos do Jordão, perto de um Carnaval. O que eu vi? Não sei descrever ainda, e escrevo há um ano. Já escrevi cem textos e em todos eu rodo inutilmente ao redor da minha visão, como uma mariposa ao redor de uma lâmpada, impotente.
Há pouco mais de quinze dias fui a uma nova edição do congresso em Campos do Jordão. Na volta, por acaso, tive acesso a uma apostila do governo do Estado de São Paulo, distribuída aos professores da rede pública, com direções e temas paras as suas aulas, onde reencontrei um conto de Luís Fernando Veríssimo, "Conto de Verão n. 2: Bandeira Branca", que eu havia lido em Cuiabá.
O tema central desse conto é uma série de encontros entre dois personagens, em vários carnavais, desde a infância deles. O desfecho acontece com os dois adultos, num último encontro, por acaso, ainda num carnaval, num aeroporto. O personagem masculino, Píndaro, fica pensando se deve dizer à personagem feminina, cujo nome, Janice, só é dito de relance, que o último encontro deles, ambos ainda adolescentes, "foi o momento mais feliz da minha vida, (...), e que todo o resto da minha vida será apenas o resto da minha vida". E o que havia acontecido naquele encontro? Nada, eles haviam apenas dançado "Bandeira Branca" e nunca mais se visto. Mas para Píndaro aquele nada era muito mais...
É como se aquela visão, em Campos do Jordão, perto de um carnaval, tivesse tornado o resto de minha vida apenas isso, o resto de minha vida... Eis-me aqui, Píndaro sem Janice, defronte a um nada que não sei descrever, que não posso sequer nomear, e escrevendo.
O conto termina sem Janice se lembrar do nome de Píndaro. Na verdade, duvido que alguém hoje saiba quem foi Píndaro: ontem mesmo vi na TV um garoto de cerca de 10 anos que não sabia soletrar "isósceles"...
(imagem: estátua de Píndaro, poeta grego que viveu ente 552 e 443 antes de Cristo, que escreveu "Aqui não se lucra/Dizendo-se a verdade toda com a face descoberta./Freqüentemente é mais sábio ser silente.")